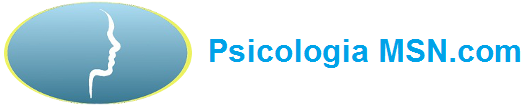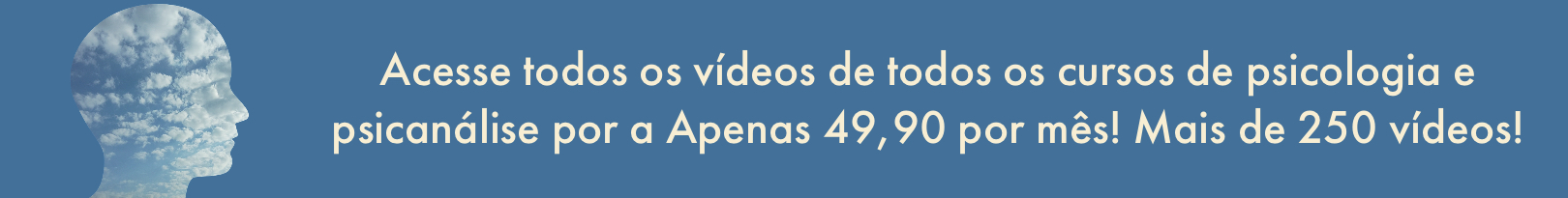Continuação da Parte 1
A seção intitulada Passagem da filosofia moral popular à metafísica dos costumes, visa traçar novamente o conceito de dever ao seu fundamento a priori. O conceito de dever não é um conceito empírico, mesmo que derive do uso comum da razão prática. A moralidade não pode ser julgada de fora, e por isso o conceito de dever não pode ser retirado da experiência. Vale ressaltar também que a experiência não pode conferir universalidade e necessidade as quais caracterizam o dever. Como o objeto da moral é ideal – isto é, o que deve ser -, aquela não pode ser retirada da experiência e caso o fosse, o dever não mereceria o respeito que lhe é atribuído. O dever, é, pois, uma exigência da razão pura:
Para nos preservar da falência total de nossas ideias sobre o dever, bem como para manter na alma um respeito bem fundamentado da lei que o prescreve, nenhuma outra coisa existe, a não ser a convicção clara de que, mesmo quando nunca houvessem sido praticadas ações derivadas de fontes tão puras, o que importa não é saber se este ou aquele ato se verificou mas sim, que a razão por si mesma, e independente de todos os fenômenos, ordena o que deve acontecer.(…) (KANT, 1964, p. 68-69).
Nota-se que Kant se recusa estabelecer um compromisso entre moralidade e experiência. Eis aqui o rigorismo kantiano: o dever não é um conceito empírico, é uma ordem a priori da razão. Consequentemente, a moral é concebida como “um ideal que nossa razão nos propõe a priori” (PASCAL, 2008, p.126) e por isso não deve ter como base a antropologia, mas deve apoiar-se na metafísica – estudo a priori acerca das condições da moralidade.
Kant constata que o homem possui uma vontade, enquanto ser racional: “Todas as coisas na natureza operam segundo leis.Apenas um ser racional possui a faculdade de agir segundo as representações das leis, isto é, segundo princípios, ou, por outras palavras, só ele possui uma vontade. E, uma vez que, para das leis derivar as ações, é necessária a razão, a vontade outra coisa não é senão a razão prática (KANT, 1964, p. 74).
Percebe-se que a vontade é uma faculdade de agir de acordo com certas regras. Estas regras formam as máximas. Estas máximas, por sua vez, quando são subjetivas ou válidas para a vontade do sujeito, formam as leis – que são objetivas ou válidas para a vontade de todo ser racional. A vontade perfeita é determinada pela razão e conforma-se imediatamente às leis racionais. Contudo, no homem a vontade está sujeita não só à razão, mas também à influência das inclinações da sensibilidade. Assim, razão e sensibilidade encontram-se em conflito na determinação da vontade.
A vontade só obedece a razão se for constrangida por ela, só o faria naturalmente se fosse pura. Por esse motivo as leis da razão se mostram à vontade como imperativos, mandamentos. A vontade santa obedece às leis da razão sem a necessidade de coação e, assim, as leis não seriam imperativos. Todavia, como a vontade humana é imperfeita, as leis se apresentam na forma de deveres, imperativos. Os imperativos são expressos pelo verbo dever e indicam uma relação entre a lei objetiva da razão e a vontade – de constituição subjetiva. Um imperativo é uma prescrição racional, é um mandamento da razão. Destarte, o imperativo é visto como expressão racional de uma obrigação.
Vale, contudo, dar um pouco de atenção à noção kantiana de máxima devido à sua importância no que se refere ao Imperativo Categórico. Faz-se necessário, portanto, apresentar, na ordem da razão, os três momentos necessários para se dizer do valor moral de uma virtude, de uma prática ou de uma ação: 1) no primeiro momento, deve haver o estabelecimento de máximas – regras subjetivas do agir; 2) no segundo momento, deve-se fazer um “teste” das normas pelo ImperativoCategórico – princípio que fundamental a ética kantiana; 3) no terceiro momento, deve-se cumprir as regras, de um modo especifico, que passaram pelo teste do Imperativo Categórico . Só após passarem por esse teste que as regras obtêm o caráter de leis práticas, isto é, o agir se dá por puro respeito pelo dever.
Kant considera que todo comportamento moral é um comportamento regrado. Moralmente isso implica que se siga uma lei moral de determinado modo e é por isso que se deve compreender o que é uma máxima, como e sob quais condições ela pode ser considerada uma lei moral. A máximaé definida pelo autor como “um princípio subjetivo do querer”. O valor de uma ação praticada por dever não se encontra no propósito dessa ação, mas sim na máxima que determina essa ação. Assim, fica evidenciado que a máxima de uma açãoé uma regra subjetiva do agir, e uma possível portadora do dever moral.
Kant distingue os imperativos em duas subclasses: imperativos hipotéticos e imperativos categóricos. Os imperativos hipotéticos apresentam uma ação como necessária para se atingir um determinado fim. Já os imperativos categóricos apontam para uma ação necessária em si mesma. Como exemplos de ambos os tipos de imperativos temos: os imperativos da habilidade – os quais prescrevem os meios úteis para se alcançar um determinado resultado – são hipotéticos; os imperativos da prudência são também hipotéticos, pois prescrevem os meios mais úteis para se chegar à felicidade; os imperativos da moralidade nos prescrevem uma certa conduta sem visar algum fim, e por isso, estes imperativos são categóricos.
Assim, fica evidenciado que “a habilidade dita regras, a prudência dá conselhos, e a moralidade impõe mandamentos ou leis” (PASCAL, 2008, p.128). Os imperativos hipotéticos embasam-se no princípio analítico, já os imperativos da moralidade não se ligam analiticamente a um fim exterior, pois a ordem da razão não faz com que o imperativo categórico se subordine a algum fim. Assim, o imperativo categórico estabelece uma ligação sintética entre a vontade e a lei. Como a moralidade não pode ser fundamentada em dados empíricos, a ligação entre vontade e lei é a priori.
O imperativo categórico propõe que a máxima da ação do homem se conforme à lei, ou melhor, ao Imperativo Categórico cabe: “a universalidade de uma lei em geral, à máxima da ação deve ser conforme” (KANT, 1964, p.83). Assim, chega-se até a fórmula geral do Imperativo Categórico: “Procede apenas segundo aquela máxima, em virtude da qual podes querer ao mesmo tempo que ela se torne em lei universal” (KANT, 1964, p.83). Esta fórmula geral é considerada como princípio do qual derivam todos os imperativos do dever.
Vale expor a origem da imoralidade, assim como exposta por Kant: a imoralidade é concebida pelo filósofo como o assentimento de privilégios a nós próprios. A falta do homem é ceder às inclinações, todavia, ao ceder, o homem sabe que não deveria ter cedido. Mesmo desrespeitando a lei moral, o homem sabe que o fez e, mesmo assim, reconhece a lei moral como digna de respeito.
O homem, enquanto ser racional, é dotado de vontade e age em vista de um fim. Deste modo, é necessário diferenciar os fins subjetivos dos fins objetivos: “O princípio subjetivo do desejo é o móvel, o princípio objetivo do querer é o motivo” (KANT, 1964, p. 90). Posto que a boa vontade não pode agir visando um fim subjetivo – relativo ao sujeito – e que não pode ser determinada por um móvel, cabe questionar a que espécie de fim objetivo a boa vontade pode se propor, ou, ainda, que motivo pode determiná-la. Um fim objetivo tem valor universal e, assim, é um fim em si. Kant assinala que o homem é um fim em si. Deste ponto da argumentação, surge a segunda formulação do Imperativo Categórico: “Procede de maneira que trates a humanidade, tanto na tua pessoa como na pessoa de todos os outros, sempre ao mesmo tempo como fim, e nunca como puro meio” (KANT, 1964, p.92).
Ao aproximar as duas fórmulas anteriores do Imperativo Categórico, origina-se a terceira formulação: como o homem não deve ser tratado com um instrumento, não pode ser considerado um mero objeto da legislação universal – imposta pela lei moral – já que cabe ao próprio homem ser o autor dessa legislação. O homem não pode receber a lei de fora, como já foi apontando anteriormente, e devido a isso é preciso que ele a imponha a si mesmo. O terceiro princípio da moralidade, é, pois: “a ideia da vontade de todo ser racional considerada como promulgadora de uma legislação universal” (KANT, 1964, p. 94).
Este é o princípio de autonomia da vontade e ele nos possibilita compreender o motivo da obediência do homem à lei não se fundar na busca de um interesse qualquer. Kant afirma, pois, que os homens obedecem à lei porque são eles próprios que se dão a lei. A expressão dessa lei é o Imperativo Categórico. A vontade, para o filósofo, “dá-se a si mesma a sua lei: ela é autônoma” (PASCAL, 2008, p.132).
Kant retoma a ideia de autonomia no campo da moral, como consequência, é levado ao conceito de reino dos fins. O Imperativo Categórico liga, de modo sistemático, muitos seres sob leis objetivas comuns. O reino dos fins é um mundo ideal ao qual o homem pertence como membro e como chefe. Assim, pode-se afirmar que a ação é considerada moral quando se dá conforme a legislação – esta é o que torna o reino dos fins possível. Eis, então, a terceira fórmula do Imperativo Categórico: “agir somente segundo uma máxima tal… que a vontade possa, mercê de sua máxima, considerar-se como promulgadora de uma legislação universal” (KANT, 1964, p. 97).
A ideia de dignidade da pessoa liga-se à ideia de autonomia. O homem enquanto autor de sua própria lei, tem um valor relativo, mas também tem um valor intrínseco, uma dignidade, pois a autonomia é vista por Kant como o “princípio da dignidade da natureza humana” (KANT, 1964, p.99). Assim, compreende-se que a autonomia é vista pelo filósofo como princípio supremo da moralidade, já que a autonomia exige a vontade de uma legislação universal e o respeito à pessoa humana que lhe deve a sua dignidade.
A boa vontade, finalmente é definida como “aquela vontade, cuja máxima, quando convertida em lei universal, não pode jamais contradizer a si mesma” (KANT, 1964, p.100). E, assim, fica exposto o percurso argumentativo kantiano que aborda a felicidade não como um fim em si ou como um bem em si, mas como o sumo bem que só pode ser alcançado no mundo inteligível. Isto implica que a razão nada pode fazer com relação a esse sumo bem, mas somente ter por objetivo controlar a vontade, movê-la. Ficou evidenciado também o itinerário argumentativo feito por Kant para expor a noção de dever e sua ligação íntima com a fórmula geral do Imperativo Categórico, bem como com suas outras três formulações.
Referências bibliográficas:
KANT, I. Crítica da Razão Prática. São Paulo: Editora S.A, 1959.
KANT, I. Fundamentação da metafísica dos costumes. São Paulo: Companhia Editora Nacional,1964.
PASCAL, G. Compreender Kant. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008.
REALE, Giovanni; ANTISERI, Dario. História da filosofia: de Spinoza a Kant, v. 4.São Paulo: Paulus, 2005.