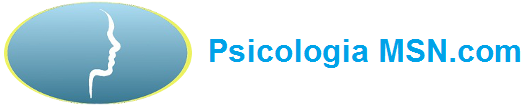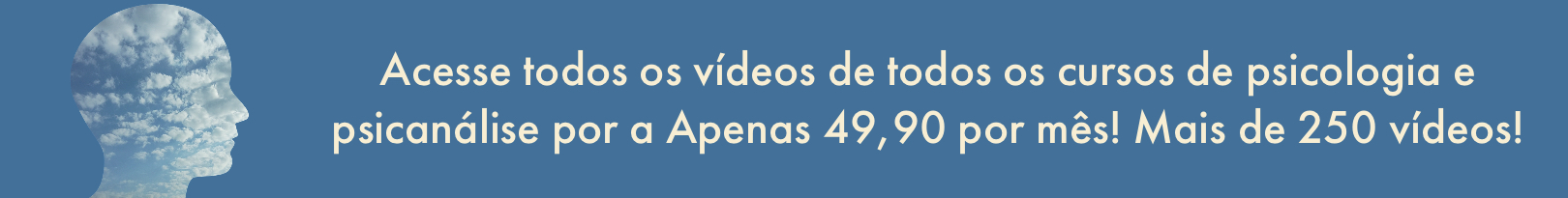Immanuel Kant nasceu em Königsberg, em 22/04/1724, na Prússia Oriental e faleceu na mesma cidade, em 12/02/1804. A epistemologia kantiana, bem como sua doutrina ética causaram grandes impactos na filosofia. Kant afirmava ter tido uma “grande luz” em 1769. Essa “grande luz” compreendia o centro de sua futura “revolução copernicana”, a qual já se apresentava em sua Dissertação de 1770. A Dissertação apresentava-se como uma “propedêutica” da metafísica – concebida como conhecimento dos princípios do intelecto puro. A inovação feita por Kant ocorreu no campo do conhecimento sensível, enquanto visto como intuição, e também na concepção de espaço e de tempo como modos com os quais o sujeito capta as coisas sensivelmente. Nos escritos pré-críticos, Kant oscila entre racionalismo e empirismo.
A revolução no modo de pensar ocorreu através de um deslocamento do centro da pesquisa física: o objeto deixou de ser o centro da pesquisa e a razão humana tomou esse lugar central. Kant afirma que a razão deve buscar na natureza, de acordo com o que a própria razão coloca na natureza, o que se deve apreender da natureza. Destarte, a física foi colocada no caminho seguro da ciência, segundo o filósofo. Todavia, no campo da metafísica tudo se manteve confuso, pois esta permaneceu na fase pré-científica. Questões como: existem possibilidades da metafísica constituir-se como ciência? Se for impossível que a metafísica se constitua como ciência, qual é a causa da natureza ter dado uma tendência tão forte à razão humana para problemas metafísicos? qual é o caminho a ser seguido para que a metafísica se constitua como ciência são colocadas pelo filósofo.
Antes da “revolução copernicana” feita por Kant, o conhecimento era explicado através da suposição de que o sujeito devia girar em torno do objeto. Todavia, muitas coisas continuavam sem explicações e por isso Kant supôs que o objeto é que deveria girar em torno do sujeito. Copérnico realizou uma revolução análoga ao afirmar que – como muitos fenômenos permaneciam inexplicados com a suposição de a terra se mantinha fixa no centro do universo e que todos os planetas giravam em torno dela – que a terra girava em torno do sol. “Kant considera que não é o sujeito que, conhecendo, descobre as leis do objeto, mas sim, ao contrário, que é o objeto, quando é conhecido, que se adapta às leis do sujeito que recebe cognoscitivamente” (REALE, 2005, p.358).
E ainda, “Com sua revolução, portanto, Kant supôs que não é a nossa intuição sensível que se regula pela natureza dos objetos, mas que são os objetos que se regulam pela natureza de nossa faculdade intuitiva” (REALE, 2005, p. 358). Assim, Kant chega à conclusão de que os objetos, enquanto são pensados, regulam-se pelos conceitos do intelecto e coadunam-se com estes. O filósofo afirma, pois, que “das coisas, nós só conhecemos a priori aquilo que nós mesmos nelas colocamos” (KANT apud REALE, 2005, p.358).
Após essa breve introdução acerca das novidades trazidas pela filosofia kantiana, abordaremos a obra que temos por objeto de análise bem como os problemas propostos para o presente trabalho.
A obra kantiana Fundamentação da metafísica dos costumes tem por objeto pesquisar e determinar o princípio supremo da moralidade. A primeira seção abarca a passagem do conhecimento racional comum acerca da moralidade ao conhecimento filosófico. Kant propõe-se a delimitar o princípio supremo da moralidade através de análise, de modo que fique exposto como esse princípio supremo se apresenta em toda consciência humana. Como objetivos deste breve trabalho, temos: 1) a análise da boa vontade e de como essa noção extingue a contradição existente entre a felicidade – enquanto considerada como fim último – e a razão – enquanto incapaz de alcançar a felicidade; e 2) expor o percurso argumentativo kantiano acerca da noção de dever e também a relação deste com a boa vontade e com o Imperativo Categórico na obra Fundamentação da Metafísica dos Costumes (1964).
Na primeira seção, o filósofo parte, pois, do seguinte pensamento: “Não é possível conceber coisa alguma no mundo, ou mesmo fora do mundo, que sem restrição possa passar a ser considerada boa, a não ser uma só: uma boa vontade” (KANT, 1964, p. 53). Neste pequeno trecho, pode-se notar uma crítica às éticas da virtude e utilitarista, já que a boa vontade, segundo a doutrina kantiana, é concebida como cumprimento das exigências do dever moral motivado pelo próprio dever, e não por uma vontade tomada como benevolente e generosa – este ponto será melhor apresentado ao longo do texto.
De acordo com o filósofo, a faculdade de julgar, a coragem, a inteligência, etc, não são coisas boas de modo absoluto, pois o valor delas depende de seu uso. O mesmo pensamento se aplica à noção de felicidade – a qual não é um bem em si – e que pode ser a origem da corrupção para o homem que não possui uma boa vontade. Vale apontar aqui que o que torna uma vontade boa é a própria natureza do querer. Kant entende por boa vontade “não um mero desejo, mas o apelo a todos os meios que estão a nosso alcance” (Kant, 1964, p. 54) e afirma, ainda, que a boa vontade possui valor em si mesma, é absoluta e incondicionada, diferentemente da felicidade – a qual precisa ser guiada pela boa vontade.
O estatuto da vontade boa é, pois, o de guiar as virtudes (como o discernimento, a argúcia do espírito, a coragem, a constância, a capacidade de julgar) para que elas não sejam más. As riquezas, a saúde, o poder podem ser danosas caso não sejam guiadas pela vontade boa.
Para Kant, a felicidade não é a base para a vida moral. A definição dada por ele ao termo é: “A felicidade é a condição do ser racional no mundo, para quem, ao longo da vida, tudo acontece de acordo com seu desejo e vontade” (Crít. R. Pratica, Dialética, Seção 5). A felicidade é uma parte que integra o bem supremo – este é para o homema síntese da virtude e felicidade.
O bem supremo, todavia, nãoérealizável no mundo natural, pois neste mundo não há garantias de perfeita proporção entre moralidade e felicidade, como tambémnão há garantias de que o ser racional realize, de forma plena, todos os seus desejos e tendências. Assim, a felicidade éimpossível no mundo natural, sendo possível somente no mundo inteligível. Kant aponta para essa noção como empiricamente irrealizável. Assim, fica evidente porque a felicidade é um bem, não em si mesmo, que a razão não consegue alcançar.
Com a finalidade de compreender o conteúdo da boa vontade, Kant se atém, primeiramente, ao conceito de dever, posto que este contém em si o conceito de boa vontade. Até então, pode-se afirmar que a boa vontade é a vontade de agir por dever. No entanto, não se pode deixar passar desapercebido o fato de que se pode agir em conformidade com o dever, mas sem que isso acarrete que ação se dê por dever. Ademais, deve-se ter em vista que agir em conformidade com o dever é diferente de agir por dever, como ressalta Kant. Para que a ação tenha verdadeiro valor moral, deve ser executada por dever, mas não apenas em conformidade com o dever. Depreende-se, pois, que agir em conformidade com o dever sob a influência da sensibilidade é algo de patológico. O valor moral depende da razão.
Kant evidencia a oposição existente entre o ponto de vista da legalidade – conformidade com a lei – e o ponto de vista da moralidade verdadeira – constituída pela pureza da intenção. A intenção é entendida por Kant como um esforço necessário para que ela (a intenção) seja realizada. Deste ponto decorre o primeiro princípio da moralidade: o valor moral de um ato está na intenção. O segundo princípio da moralidade logo é exposto por Kant:
Uma ação cumprida por dever tira seu valor moral não do fim que por ela deve ser alcançado, mas da máxima que a determina. Este valor não depende, portanto, da realidade do objeto da ação, mas unicamente do princípio do querer, segundo o qual a ação é produzida, sem tomar em conta nenhum dos objetos da faculdade apetitiva (de desejar) (KANT, 1964, p. 60).
O fim visado pode ser bom, todavia, o que importa é a regra através da qual o homem pauta sua ação. O objeto visado não é o que confere valor moral ao ato, mas a razão pela qual se quer atingi-lo. Por conseguinte, o valor moral do ato encontra-se na intenção. Essa intenção deve, pois, ser destituída de um fim visado, isto é, deve-se ter a intenção de fazer o que se deve fazer. A partir dos dois princípios da moralidade expostos acima, Kant define a noção de dever: “O dever é a necessidade de cumprir uma ação por respeito à lei” (KANT, 1964, p.60).
Fazem-se necessários móveis para que o homem possa agir. Entretanto, esse móvel não pode ser extraído da sensibilidade, pois nenhuma ação que procede do móvel extraído da sensibilidade pode ser qualificada como moral. O móvel da ação – para quem quer agir por dever – encontrado na doutrina kantiana é “senão o respeito à lei que lhe ordena cumprir o dever. É pois somente a representação da lei, num ser racional, que pode determinar a boa vontade” (PASCAL, 2008, p.122).
Neste ponto, surge o problema de saber qual é a constituição dessa lei – a qual não considera o efeito que se espera de sua própria representação e que deve determinar a vontade de modo a denominá-la boa, sem restrições e de modo absoluto. Segundo a doutrina kantiana, em qualquer lei pode-se considerar a forma – universalidade do preceito – e o seu conteúdo – o objeto visado.
Todavia, a ação moral não extrai seu valor de um fim objetivado, o que significa que a lei moral deve ser considerada de acordo com a forma. A obediência à lei não depende de seu conteúdo. Assim, resta à vontade “a conformidade universal das ações a uma lei em geral que deva servir-lhe de princípio; noutros termos, devo portar-me sempre de modo que eu possa também querer que a minha máxima se torna em lei universal” (KANT, 1964, p. 62). Fica, pois, evidente, o formalismo kantiano: a conformidade com a lei em geral constitui o princípio da boa vontade. A razão comum sempre tem este princípio diante dos olhos.
Kant sustenta que não é difícil saber agir moralmente, pois cada pessoa pode reconhecer, em cada momento, aonde se encontra o dever, a condição de uma boa vontade ao questionar a si próprio se quer que máxima alcançada se torne uma lei universal: “Ficaria satisfeito se minha máxima valesse como lei universal?” (KANT, 1964, p.63). Assim, a análise do conhecimento moral comum capacita-nos a descobrir o princípio supremo da moralidade.
Leia a continuação aqui – Kant: o dever e a boa vontade na Fundamentação da Metafísica dos Costumes